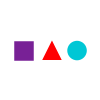Imagem: Jason Leung/Unsplash
Quando pensamos nas primeiras notícias que alertavam sobre um novo e misterioso vírus que se disseminava pela China no fim de 2019, a sensação é de que isso ocorreu há muito mais tempo do que há somente um ano e meio. Mesmo o “resgate” dos brasileiros e brasileiras que viviam em Wuhan, epicentro do que viria a se tornar uma crise assustadora, também parece uma história distante. Naquele momento, sem muitas informações detalhadas, muitos se referiam à doença simplesmente como o “vírus chinês”.
Desde então, o novo coronavírus se espalhou pelo planeta, matando até agora mais de 2,7 milhões de pessoas — número que aumenta a cada instante, especialmente no Brasil, onde vivenciamos hoje a fase mais nefasta dessa tragédia sanitária. Novas variantes surgiram, o perfil dos doentes mais graves mudou e a vacinação teve início em diversos países, entre tantos fatos que vêm preenchendo a complexa narrativa da maior pandemia do século 21.
Com novos hábitos e informações que incorporamos ao nosso dia a dia, pode parecer que a associação da doença com o lugar onde ela teria surgido ficou para trás. No entanto, a estigmatização de chineses (conhecida como sinofobia) e outros cidadãos asiáticos por conta da Covid-19 nunca esteve tão forte.
Nos Estados Unidos, uma onda recente de ataques tem provocado pânico entre essa população. O caso mais recente ocorreu em 16 de março, quando um homem branco atacou a tiros casas de massagem na cidade de Atlanta, no estado da Geórgia, matando oito pessoas, sendo seis delas mulheres asiáticas.
Apesar do acusado, um jovem de 21 anos chamado Robert Long, afirmar não ter sido motivado por ódio racial, a chacina faz parte de um contexto de racismo que se agravou no país por conta da pandemia, fazendo com que o presidente Joe Biden se pronunciasse e viajasse ao local do incidente para dialogar com a comunidade asiático-americana. No domingo, 21 de março, milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades dos Estados Unidos para se manifestar contra a violência e a xenofobia.
O caso em Atlanta soma-se a outras violências experienciadas por asiáticos de diversas origens no último ano em território norte-americano. A chinesa Xiao Zhen Xie, de 76 anos, foi atingida na rua por um soco por um homem no dia 17 deste mês. Ao revidar, sua reação foi gravada e o vídeo viralizou. Já o filipino Danny Yu Chang, de 59 anos, foi atacado no dia 16, mesma data do atentado aos spas em Atlanta, por outro homem desconhecido que o golpeou diversas vezes. As duas agressões ocorreram em San Francisco, Califórnia.
Nada disso é repentino: é resultado de meses de ódio disseminado nas redes sociais por teorias conspiratórias, grupos supremacistas e autoridades públicas. O discurso do ex-presidente norte-amercano Donald Trump é um exemplo que une todos esses elementos: durante seu mandato, ele usou a expressão “vírus chinês” diversas vezes, ameaçou o país asiático com tarifas aos produtos de lá importados e afirmou sem provas (ou sem qualquer evidência) que a doença foi criada em um laboratório em Wuhan, culpando a China pelo surgimento da Sars-CoV-2.
A sinofobia generalizada nos Estados Unidos fez surgir, em março de 2020, a campanha Stop AAPI Hate, que já contabilizou 3.795 denúncias do tipo. A sigla AAPI significa Asian Americans/Pacific Islanders e faz referência a chineses, coreanos, japoneses, vietnamitas, cambojanos e filipinos, entre outras nacionalidades.
No Brasil, tivemos um contexto similar no que tange a uma postura sinofóbica de autoridades públicas: parlamentares e ministros de Estado propagaram, nas redes sociais, ideias semelhantes por meses, imputando à China a responsabilidade pela pandemia e gerando graves conflitos diplomáticos com a embaixada do país.
A estigmatização social de um país, uma população ou uma comunidade, quaisquer que sejam eles, é fruto de uma combinação perigosa de medo, desconhecimento e preconceito, e pode ter consequências trágicas em um momento crítico como o pandêmico, em que a desinformação prolifera em uma velocidade frenética.
Ciente disso, a própria Organização Mundial de Saúde (OMS) tem diretrizes específicas para nomear novas enfermidades: Covid-19, por exemplo, significa Corona Virus Disease (doença do coronavírus), sendo que o número 19 se refere ao ano de sua detecção (2019). Em fevereiro passado, quando o nome foi anunciado, Tedros Adhanom, diretor-geral da entidade, reforçou a importância do uso dessa nomenclatura em detrimento de expressões estereotipadas.
Nomear as doenças conforme essa orientação, sem designá-las por apelidos populares, é uma questão de cidadania. É uma maneira de não reduzirmos populações inteiras a estigmas que as desumanizam e incitam discursos de ódio, como aconteceu na época da “gripe espanhola” e com a borreliose, também conhecida como Doença de Lyme — mesmo porque o local onde uma nova enfermidade foi descoberta nem sempre coincide com a sua origem exata.
É sabido que é muito mais fácil buscar culpados e soluções simples para problemas de dimensões globais, como uma pandemia, mesmo que essas respostas pareçam fantasiosas e até neuróticas. Mas evitar o uso de termos como “vírus chinês” ou “vachina” é um exercício de empatia e respeito por toda uma cultura e um povo. Combater tais narrativas, por meio de uma visão crítica e responsável da informação e do conteúdo midiático que consumimos, é defender o conhecimento, a diversidade e a ciência.